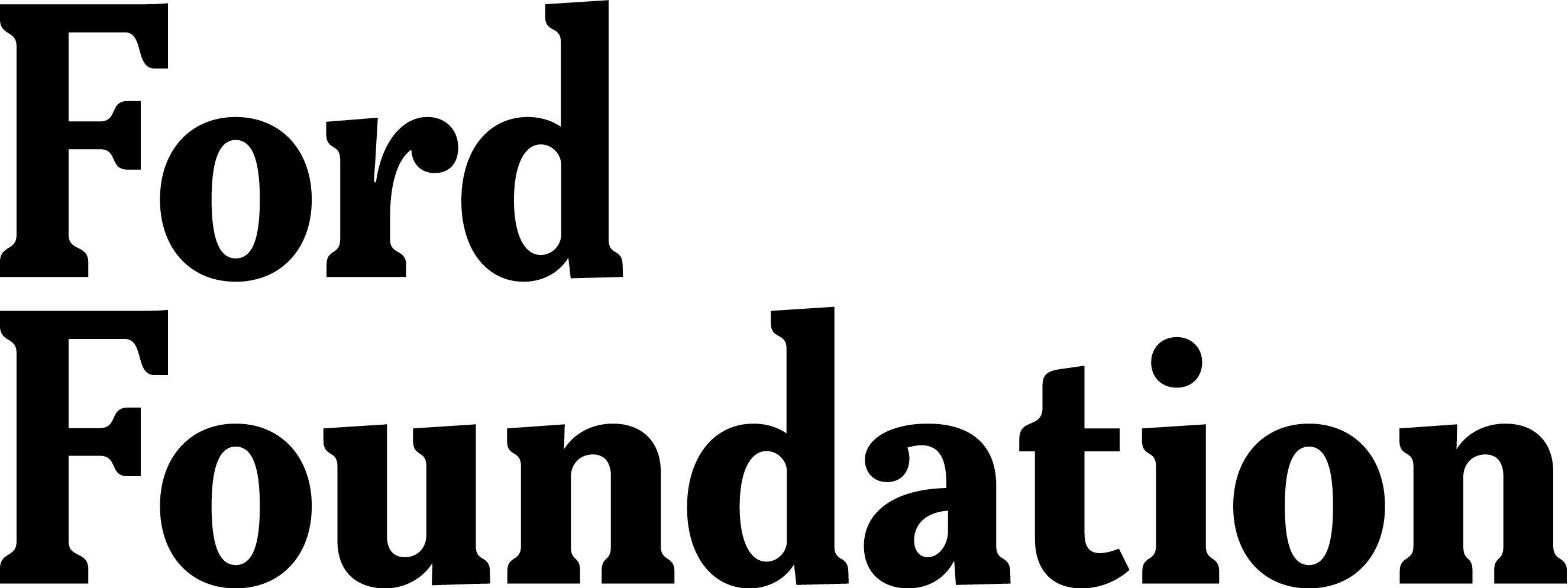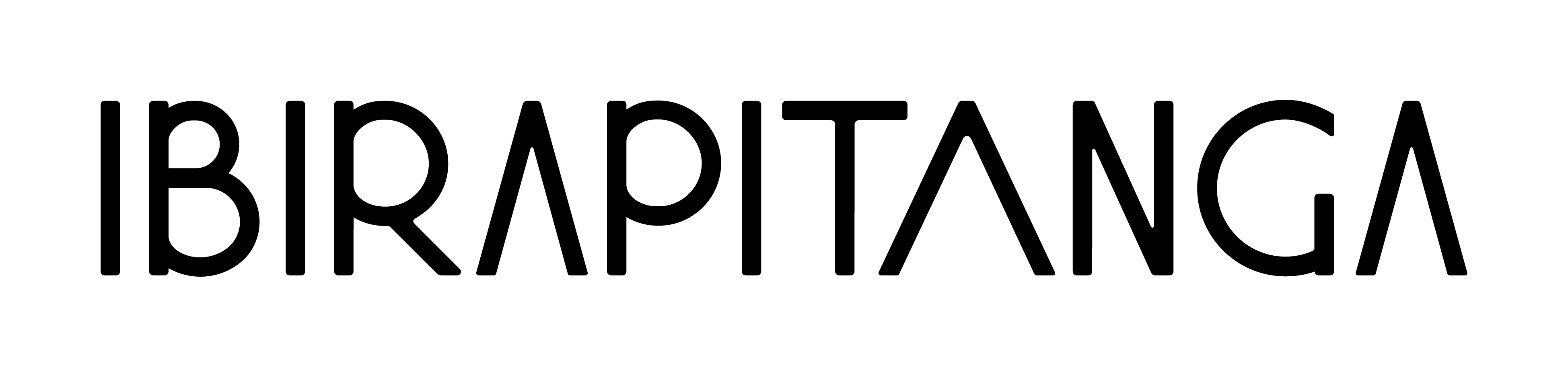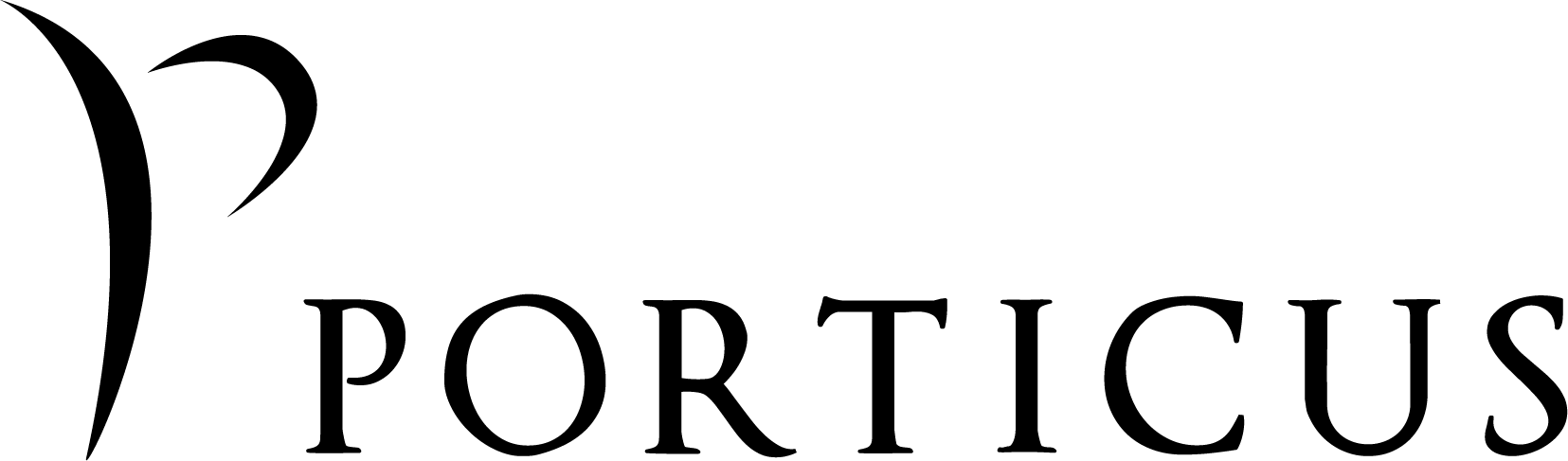Como a justiça socioambiental pode ampliar o acesso a direitos
Por: GIFE| GIFEnaCOP| 21/11/2022
Foto: Ricardo Stuckert
A expressão “justiça climática” ficou bastante conhecida pela ação de movimentos sociais em conferências da Organização das Nações Unidas (ONU), foi reconhecida no preâmbulo do Acordo de Paris e é aclamada sobretudo por jovens ativistas. Na Marcha pelo Clima, realizada em 2021, milhares de pessoas protestaram contra a emergência climática. E bradaram que ‘não existe justiça climática sem justiça racial’.
As pessoas e comunidades mais atingidas pela emergência climática são as mais pobres e em situação de vulnerabilidade. No Brasil, as populações negras e indígenas, e em especial nesse recorte as mulheres, são as mais diretamente atingidas pelo impacto da emergência climática.
Para Mariana Belmont, diretora de clima e cidade do Instituto Peregum, “o racismo ambiental se reflete nas tomadas de decisão, quando a maioria das pessoas, organizações e lideranças são brancas, tomam decisões sem entender diretamente quais são os impactos reais, sem ouvir as pessoas, as comunidades tradicionais, os movimentos negros, indígenas, de base e periféricos.” Ainda para Mariana, “se fala de emergência climática a partir de um lugar europeu, do norte central, sem inclusão e racista. Todo processo de decisão sem incluir essas pessoas é racista.”
Giovanni Harvey, diretor executivo do Fundo Baobá, destaca que essa agenda, até pouco tempo atrás, era exercida por um monopólio das branquitudes, independentemente do viés ideológico ou dos interesses defendidos.
”A história da humanidade tem nos ensinado que a qualidade do processo de formulação das políticas públicas e o nível de profundidade das análises que embasam os processos de decisão são prejudicados quando ficam restritos a grupos ou segmentos sociais com práticas monopolistas que, não obstante as competências que conseguem reunir, não conseguem ter uma visão do todo, e tal deficiência se traduz na falta de consistência das soluções propostas.”
Inimá Krenak, analista de programas do Fundo Casa Socioambiental, reforça a importância de atores diversos estarem no processo de tomada de decisão: “a gente vive agora um momento de divisão política muito grande, em que parece claro que temos duas visões de mundo antagônicas, em que uma é o progresso, é o sucesso, e a outra não. A outra seria atrasada, que não pensa no desenvolvimento do país. Precisamos ter mais gente com visão de mundo diferente dessa dominante ocupando todo tipo de espaço na política, na filantropia, dentro das empresas, nos governos.”
As desigualdades e a agenda climática
A emergência climática pode ser um acelerador ainda maior de desigualdade, visto que seus impactos vão afetar principalmente os mais pobres, ou pode ser, em teoria, uma alavanca para contribuir com o enfrentamento da desigualdade. É o que acredita Ana Toni, diretora executiva do Instituto Clima e Sociedade (iCS).
“O que a gente vê é que o desmatamento tem aumentado as desigualdades na região amazônica. Então, deixando a floresta em pé e pensando numa nova economia para a Amazônia, pensando em bioeconomia, poderíamos também contribuir para o enfrentamento das desigualdades.”
Isabel Figueiredo, coordenadora do Programa Cerrado e Caatinga do Instituto Sociedade, População e Natureza (ISPN), destaca o trabalho de conservação ambiental que gere inclusão social, buscando levar recursos a comunidades, associações e famílias mais periféricas que se encontram foram de contextos de Unidades de Conservação ou da própria Amazônia.
“Elas são mais apartadas e menos conhecidas das pessoas e da mídia. E, por isso, acessam menos recursos. A gente vem trabalhando com inclusão social nesse contexto rural de caatinga, de cerrado. Essas pessoas já estão vivenciando na pele a questão das mudanças climáticas, no dia a dia, de forma muito nua e crua. É quem tem quebra de safra e não tem acesso a crédito, a apoios governamentais e subsídios. Quem está vendo o rio atrás de casa secar e não pode fazer nada, não tem como cavar um poço.”
O direito à terra de povos indígenas e quilombolas
A titulação de terras quilombolas e indígenas, no Brasil, com a consequente demarcação, é também fundamental para garantir a diversidade biológica e a conservação da floresta.
“Hoje quem de verdade sustenta as florestas e assegura que a devastação ambiental não ocorra de modo pior são as comunidades tradicionais, que têm feito um serviço ambiental importantíssimo para o planeta”, analisa Mariana.
Comunidades tradicionais e quilombolas ajudam na diminuição do risco climático ao conservar florestas com saberes ancestrais. Relatório publicado pela ONU em 2021 aponta que taxas de desmatamento na América Latina e no Caribe são significativamente mais baixas em áreas indígenas e de comunidades tradicionais onde os governos reconhecem os direitos territoriais coletivos.
Para Giovanni Harvey, diretor executivo do Fundo Baobá, a titulação dos territórios quilombolas e indígenas deve atender, em primeiro lugar, “ao imperativo histórico de reconhecimento e de reparação às comunidades ancestrais e aos povos originários. Partindo deste pressuposto, tendo em vista o fato destes povos praticarem o manejo sustentável da terra, haverá uma maior salvaguarda e, por conseguinte, um importante estímulo à preservação ambiental.”
Não só na zona rural ou em áreas de conservação da biodiversidade esses grupos precisam ter suas vozes ouvidas e serem parte dos processos de decisão. Em cidades com perfil urbano, esses são os grupos que mais sofrem os impactos da emergência climática, incluindo enchentes, furacões, ondas de calor e de frio. São moradores de áreas de risco e de alta vulnerabilidade que, em sua maioria, têm acesso a serviços precários, quando não inexistentes, de moradia, água, luz, saneamento e transporte.
“É importante a gente falar sobre o efeito da desigualdade urbana promovida pelos Planos Diretores nas cidades, que em geral são elaborados sem a participação social, de forma que garantam os interesses de grandes empresas e empreiteiras brasileiras, o que tem tornado as cidades violentas e criminosas para a vida social, ambiental, cultural e econômica das pessoas negras e pobres”, analisa Mariana Belmont.
Inimá avalia que, de forma geral, o apoio para combater a emergência climática não vem para quem já é afetado por ela, e sim para quem faz o papel de ainda poder segurar essa mudança, sendo focado hoje, em sua quase totalidade, nas relações com florestas.
“Mas, ao mesmo tempo, as pessoas precisam de bem viver, de alimento, de tudo o que nos faz ficar vivos nesta terra. Ter acesso a tudo isso também pode ser uma forma de afastar outras atividades que possam ser ainda mais prejudiciais ao nosso clima. Para todas as populações, não só as que estão na floresta, mas as que vivem na cidade também. Pensar em como todos podemos ter uma qualidade de vida que não seja prejudicial ao planeta em que a gente vive.”
Ela destaca que há muita gente vivendo os impactos climáticos com pouco acesso a recursos para enfrentá-los. Muitas vezes, os apoios e financiamentos deixam de fora comunidades que não estão em região de floresta não por opção, mas porque esses territórios já foram muito degradados antes mesmo de serem reconhecidos como terras indígenas.
“As pessoas que vivem na floresta fazem floresta. E aí nesse ponto a gente pode ter um apelo para os povos que estão sem floresta, de que eles ainda podem refazer a floresta. Apoios onde não temos mais floresta também são importantes” enfatiza Inimá.
A participação do movimento negro e indígena nos debates sobre clima
Em 2021, a COP 26 recebeu uma delegação com muitos integrantes dos movimentos negro e indígena brasileiros. Na COP 27, a participação ativa desses grupos se ampliou.
“Escutamos, na COP anterior, que haveria um investimento grande junto às populações tradicionais para promover o controle climático. Muitas comunidades estão se mobilizando para cobrar isso. Para entender qual vai ser o olhar para as comunidades locais na distribuição de recursos. Há um movimento da sociedade civil, crescente, de estar presente e de se colocar nesse debate fortemente”, diz Inimá.
O ISPN também esteve na COP 27, juntamente com outras organizações, buscando contribuir para o debate sobre direitos humanos, direitos territoriais e cumprimento da Declaração de Glasgow sobre Florestas e Uso da Terra em relação aos desafios climáticos. Além de membros de sua equipe de assessoria técnica e de comunicação, o ISPN apoiou a participação de representantes da Confederação Nacional de Articulação das Comunidades Negras e Rurais Quilombolas (CONAQ) e da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) na COP.
O movimento negro brasileiro esteve presente em comitiva pela primeira vez na COP de 2021, em Glasgow, participando de manifestações, mesas, conversas e fazendo incidência direta.
“Foi muito importante, mas, pelo tamanho dos nossos desafios, e olhando que hoje os desastres e crimes ambientais atingem diretamente as pessoas mais pobres e as pessoas negras do país, em especial as mulheres negras, ainda é muito pequena essa participação, precisa aumentar. Este ano, na COP 27, o movimento negro foi em maior quantidade, tem agenda, tem posição, e isso precisa ser escalado a cada ano. As organizações negras, periféricas e indígenas precisam de mais apoio para fortalecer essa agenda dentro das suas organizações”, analisa Mariana Belmont.
Visando ampliar e aprofundar o engajamento da filantropia e do Investimento Social Privado (ISP) brasileiro na agenda climática internacional e local, o GIFE e associados também estiveram no Egito. Integraram a Missão da Filantropia Brasileira na COP 27 o Fundo Baobá, o Instituto Votorantim, a Fundação Tide Setubal e a Raia-Drogasil. A iniciativa conta com o apoio do WINGS e da União Europeia, por meio do Enabling Enviroment Fund. Durante a COP 27, essas e outras organizações aderiram ao Compromisso Internacional da Filantropia sobre Mudanças Climáticas que já soma mais de 600 adesões.