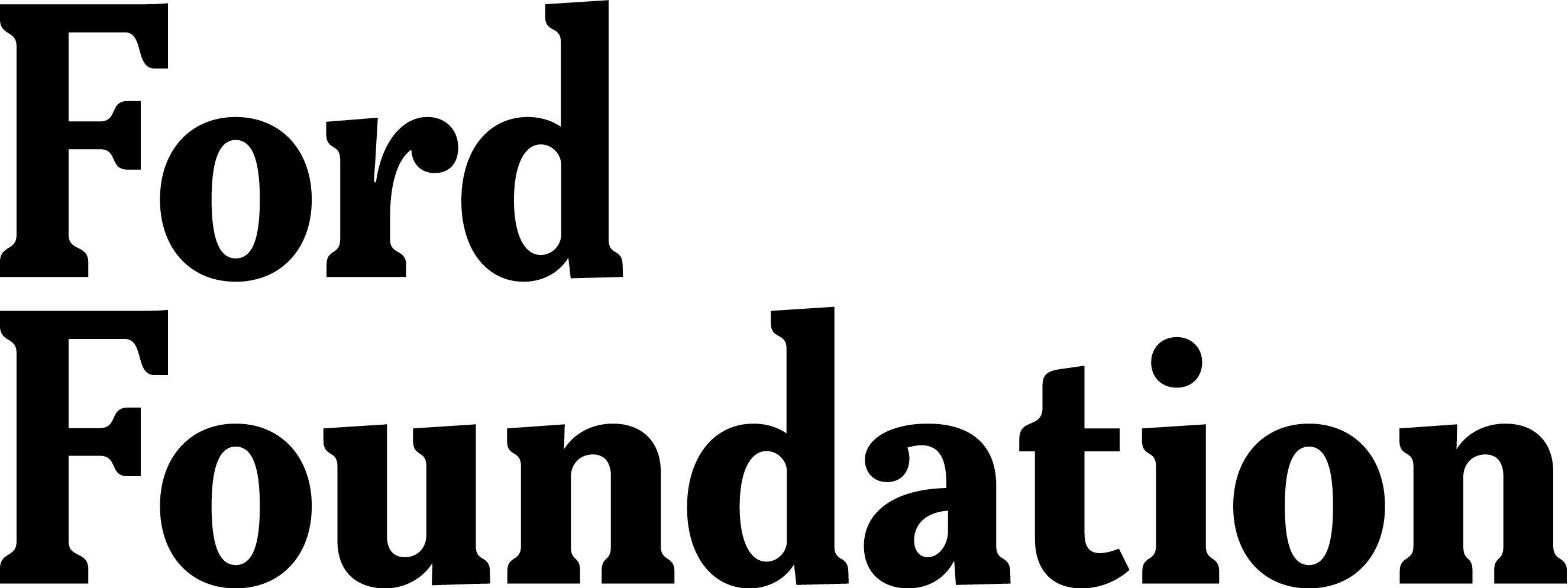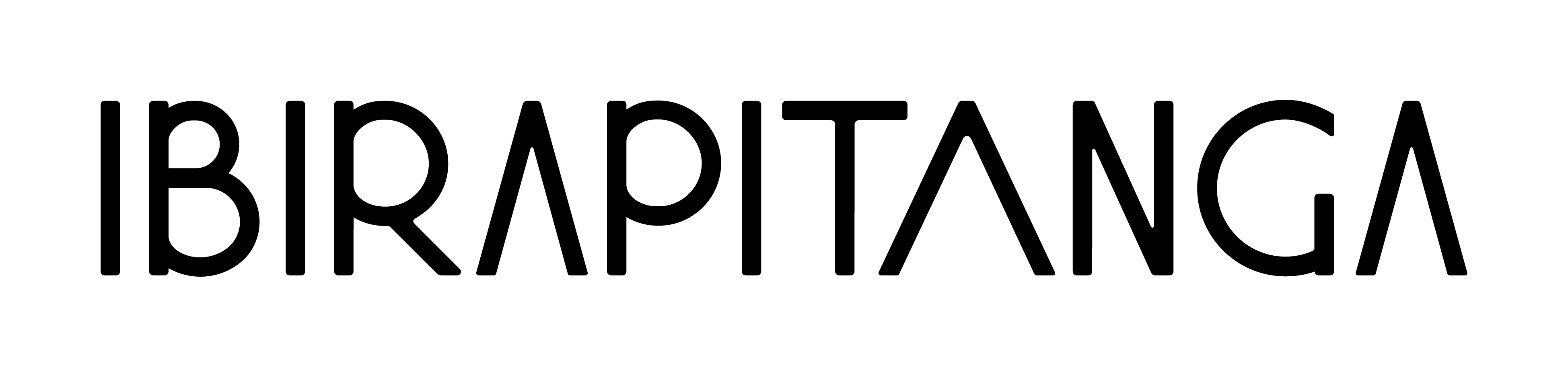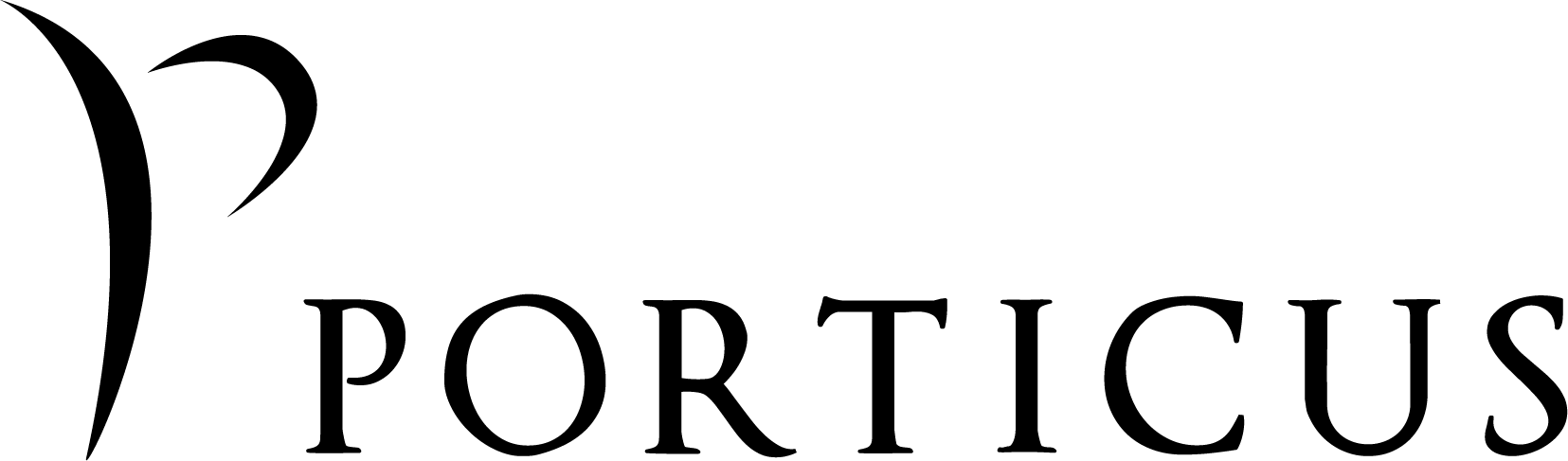“Precisamos ser um país que investe em uma cultura de doação”, afirma Rodrigo Pipponzi
Por: GIFE| Notícias| 21/10/2024
A terceira entrevista da série sobre os caminhos do investimento social privado rumo à mitigação das desigualdades sociais traz temas como transferência de riqueza intergeracional, desafios para fortalecer a cultura de doação no Brasil e filantropia familiar.
O convidado é Rodrigo Pipponzi, integrante da terceira geração da família fundadora da RaiaDrogasil e cofundador do Grupo MOL. O empreendedor social preside ainda o conselho do Instituto ACP, que visa contribuir para o fortalecimento da governança e gestão das organizações da sociedade civil brasileira.
De acordo com ranking anual da Forbes, o Brasil ocupa o 7º lugar entre os países com maior número de bilionários no mundo. Dados do relatório da Oxfam, lançado em janeiro de 2024, também mostram que 63% da riqueza brasileira está concentrada em 1% da população. Considerando este cenário, por que os super ricos do Brasil doam tão pouco em relação a sua riqueza?
Os super ricos brasileiros têm uma desconfiança com relação à melhor forma de fazer isso. Aliado a uma falta de repertório, de conhecer pouco da realidade atravessada e da desigualdade do Brasil, e explorar pouco os caminhos para melhorar essa situação. Aliado a isso, doar no Brasil, para quem é muito rico, pode gerar uma sensação de insegurança, de que está se expondo. Acho que tem uma questão ligada ao poder, para ser sincero. À medida que você abre mão de patrimônio e diminui o capital que está na sua mão em prol da sociedade, num país como o nosso, que vê com bons olhos o acúmulo de patrimônio, para os super ricos acaba significando um pouco de perda de poder. Eu acho que isso mexe muito com as pessoas que detém esse capital.
Até 2030, o mundo deve testemunhar a maior transferência de riqueza intergeracional da história, com a geração baby boomer passando cerca de US$ 68 trilhões para os millennials e a geração Z. A projeção é da pesquisa Future of Giving 2020 da Sparks and Honey. Quais suas expectativas para a atuação dessas futuras gerações em relação à responsabilidade social?
A expectativa é muito boa porque é uma geração que já vem com uma percepção diferente de mundo. Ao mesmo tempo, é uma geração que está sendo tomada por uma angústia e ansiedade muito grande, e isso também pode ser perigoso. Então, existe uma expectativa de ser uma geração que saiba usar melhor esse recurso e questionar melhor a desigualdade.
Ao mesmo tempo, existe um cuidado grande de como prepará-los para poder, não só trabalhar de forma mais sistêmica e profunda o uso dessa riqueza, como também adotar um capital não só financeiro, mas social, de influência. Não adianta pensar nessa transferência de riqueza só como filantropia pura. Eu gosto de pensar como expectativa para essa futura geração uma capacidade de usar esse recurso como capital catalítico. Uma geração que consiga usar esse recurso como catalisador para mudanças sistêmicas, no sentido de influenciar governos, empresas, setores que têm capacidade de transformação. Para que a gente possa chegar em lugares mais seguros como sociedade, do ponto de vista de mitigação de problemas sociais e ambientais.
Em setembro deste ano, foi lançado o Termômetro da Doação. Um instrumento que traçou uma linha de base, a partir das cinco diretrizes, e mostrou que a cultura de doação no Brasil está estagnada. De que forma você acredita que é possível fortalecê-la?

A gente só vai fortalecer a cultura de doação quando atacar todos os elementos que nos travam como um país doador. Precisamos ser um país que investe em uma cultura de doação que faça o brasileiro entender que doar é um ato cidadão e não só paliativo ou emergencial. Criar uma cultura de doação no Brasil em que doar não seja só dinheiro, não seja só para rico, mas que parta da generosidade, da capacidade que a gente tem como ser humano de apoiar os outros da forma que puder. A cultura de doação está muito associada à empatia. O resto vem junto. É claro que tem muitos outros elementos.
Precisamos ser um país economicamente estável para gerar renda, e as pessoas terem mais potencial de doação financeira. Precisamos ser um país que trabalhe confiança, para termos instituições cada vez mais críveis e que as pessoas se sintam seguras de doar. Mas, acima de tudo, a gente precisa ser um país que olha a cultura de doação como cultura mesmo. Que entenda que isso faz parte de um jeito de pensar, que tem a doação como elemento importante na transformação social.
Um levantamento da Mordor Intelligence de 2023 apontou que é esperado que a indústria de family offices cresça de US$138 bilhões dólares em 2024 para cerca de US$233 bilhões de dólares em 2029 ao redor do mundo. Nesse sentido, como doações vindas desses grupos podem mitigar os impactos provocados pelas desigualdades sociais?
Eu acho que recursos que estão na mão de family offices, ou seja, que pertencem a famílias, são um recorte da filantropia muito potente. Eu adoro falar isso, acho que a filantropia familiar é um dos recortes mais importantes que existe na sociedade, porque é um tipo de filantropia que pode andar mais rápido, correr mais riscos, ser mais ousada e que é menos burocratizada.
A filantropia familiar tem capacidade de canalizar muito recurso com menos custo, esforço e energia. É preciso educar as famílias e trazer bons exemplos o tempo todo. Não adianta trazer bons exemplos só de famílias que operam projetos, mas de famílias que conseguem trabalhar em parceria com o terceiro setor, com empresas, influenciando o governo, que conseguem ser criativos, inovadores, no sentido de criar coalizões, trabalhar em rede para ter esse capital a favor da sociedade de uma forma mais catalítica e não só operando seus próprios projetos. Operar projetos é importante, mas a gente vive uma era importante de explorar tudo que a filantropia familiar pode trazer, na ótica do policapital, daquilo tudo que não é só o capital financeiro. Tem muitos recursos não financeiros que são muito valiosos para promover essa transformação e as famílias têm um poder muito grande nesse contexto.